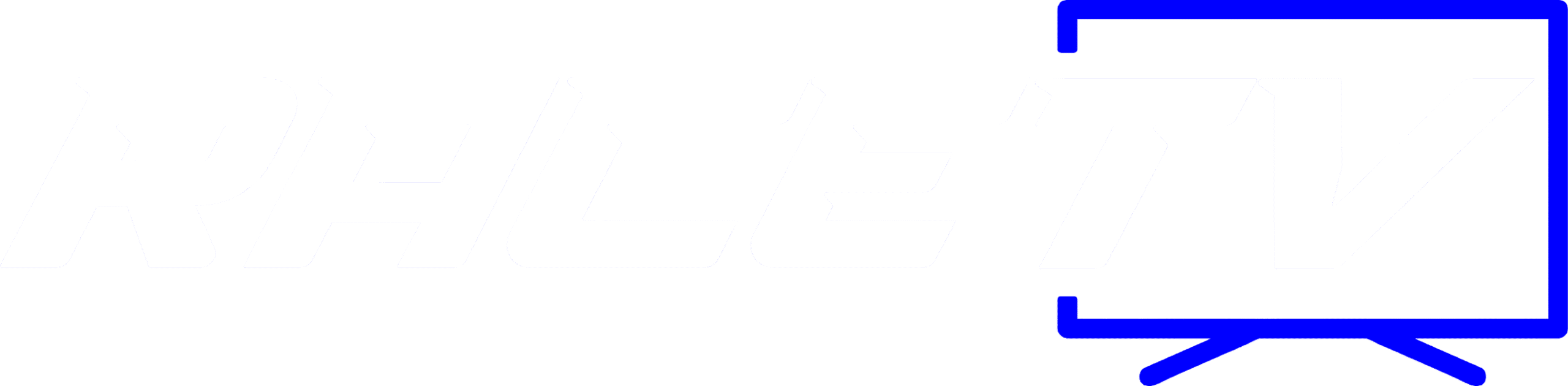O Brasil aprendeu a falar mais sobre prevenção e punição do feminicídio. Mas segue tratando como detalhe o eixo que decide o futuro de quem fica: a restituição de direitos. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, organiza o dever estatal em três pilares: prevenir, punir e restituir direitos.
Em dezembro de 2025, o país sediou em Fortaleza uma rodada do mecanismo regional de monitoramento dessa convenção. O contraste é que, no cotidiano das políticas públicas, a restituição continua sendo o pilar menos estruturado, justamente quando deveria sustentar órfãos, sobreviventes e suas redes de cuidado.
Os dados do primeiro semestre de 2025 dimensionam a urgência. O Monitor de Feminicídios no Brasil, produzido pelo Lesfem (Laboratório de Estudos de Feminicídios), sediado na Universidade Estadual de Londrina, identificou 2.978 ocorrências de feminicídio tentado e consumado —2.028 e 950, respectivamente. Entre as vítimas, ao menos 390 mulheres tinham filhos dependentes, menores de 18 anos ou com deficiência. Ao todo, cerca de 680 crianças e adolescentes ficaram órfãos ou desprotegidos.
Em pelo menos 400 casos, o crime aconteceu na presença de menores. Esses dados são apenas uma ponta do iceberg, porque ainda conhecemos pouco as histórias dessas vítimas. Feminicídio é uma morte evitável, causada pelo sentimento de superioridade do homem sobre a mulher. Não se trata apenas de uma morte, mas da ruptura de trajetórias, da desorganização familiar e da multiplicação da desproteção a grupos já vulnerabilizados.
Há um grupo ainda mais invisível, o de sobreviventes de tentativas de feminicídio e seus filhos. Sobreviver não significa voltar ao normal. Muitas mulheres perdem autonomia e passam a depender de cuidados. Isso pode ser causado por uma deficiência adquirida em decorrência da violência, por sofrimento psíquico intenso, com paralisia do cotidiano, e por empobrecimento posterior —efeito da agressão, da ruptura com o trabalho e do isolamento.
Para filhos de sobreviventes, esses fatores se acumulam em camadas: instabilidade material, interrupções escolares, medo prolongado e fragilização da rede de apoio. Se restituir direitos é reconstruir possibilidades concretas de vida, esse público não pode ser excluído das políticas públicas.
O Brasil deu um passo importante ao criar, em 2023, a pensão especial para filhos e dependentes de vítimas de feminicídio, mas a implementação só veio em dezembro de 2025.
É um avanço real, que reconhece o dano social e o dever do Estado de proteger essas mulheres. Mas chega com limites estruturais. Primeiro, porque a regulamentação é focada na pobreza, com critérios de renda que restringem seu alcance. Segundo, por não contemplar sobreviventes de tentativas de homicídio nem seus filhos, justamente os casos em que a violência pode produzir incapacidade, dependência e pobreza mesmo sem desfecho fatal.
Violência feminicida exige proteção especializada, coordenação intersetorial, metas e responsabilização. Quando o Estado não restitui direitos, alguém intervém. E quase sempre são mulheres —avós, tias, irmãs, vizinhas, professoras. Essa rede feminilizada de cuidado é infraestrutura social, mas, sem apoio estatal, gera sobrecarga, adoecimento e empobrecimento a outras mulheres.
Levar a restituição de direitos a sério inclui, no mínimo, busca ativa das vítimas, registro padronizado de seus dependentes e acompanhamento psicossocial continuado. Prevenir e punir são indispensáveis, mas sem restituição o ciclo permanece aberto. E a legião invisível continua crescendo.
TENDÊNCIAS / DEBATES
Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.